
As políticas públicas são fundamentais no combate à fome, uma vez que a insegurança alimentar é resultado das escolhas políticas e econômicas. As cooperativas populares precisam ser vistas como um importante meio de diminuição da pobreza no Brasil.
Espaços públicos ociosos podem ser usados para a produção de alimentos. Alimentos de origem aquática têm ótimo potencial para garantir a segurança nutricional da população.
Essas foram algumas ideias expostas no simpósio Políticas Públicas para o Combate à Fome, promovido na quarta-feira, dia 12, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP, com apoio do Instituto de Estudos Avançados (IEA), também da USP. Transmitido ao vivo pela internet, o evento reuniu pesquisadores da Universidade para propor ações efetivas contra o problema da fome no Brasil.
Formado por dois painéis, o simpósio foi aberto pelo reitor da USP, professor Vahan Agopyan, que destacou o “papel crucial” da Universidade no combate à fome, através da elaboração de diretrizes de políticas públicas consistentes, colocadas à disposição dos órgãos federais, estaduais e municipais. “Espero que essa seja uma das bandeiras das universidades brasileiras, uma bandeira da Universidade de São Paulo. A fome não espera”, ressaltou Vahan.
Embora seja relevante para combater a fome no Brasil, o assistencialismo não substitui as políticas públicas, uma vez que a insegurança alimentar é um problema estrutural e não momentâneo. Além disso, as iniciativas voltadas para ajudar os que passam fome tiram do Estado a responsabilidade de garantir a todos o direito à alimentação adequada. “Não é por causa do vírus que existe fome. Ela não é um fenômeno natural. É de natureza política e econômica.”
Foi o que disse a economista Tereza Campello, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, durante o primeiro painel do simpósio Políticas Públicas para o Combate à Fome, que foi mediado pelo professor Eduardo Cesar Marques, do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP.
Tereza Campello destacou que 55% dos brasileiros são afetados pela insegurança familiar, segundo pesquisa realizada em dezembro passado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). Para ela, essa porcentagem representa um retrocesso, se comparada aos índices registrados em anos anteriores. A situação poderia ser ainda pior se em 2020 não houvesse sido concedido o auxílio emergencial, acrescentou. “A tendência é que a insegurança alimentar aumente, já que agora não há o mesmo auxílio.”
"Embora seja relevante para combater a fome no Brasil, o assistencialismo não substitui as políticas públicas, uma vez que a insegurança alimentar é um problema estrutural e não momentâneo"
De acordo com a economista, a insegurança alimentar precisa ser combatida com o fortalecimento do salário mínimo, a geração de empregos formais, a organização da legislação trabalhista, a execução de projetos de transferência de renda e a oferta de merenda escolar. “Para além de justiça social, isso também faz parte do desenvolvimento econômico”, alertou Tereza. “A pergunta não é quanto custa fazer essas políticas públicas, mas quanto custa o Brasil não enfrentar essas situações.”
Outra participante do painel, a professora Maria Elisa Garavello, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, criticou a diminuição, por parte do poder público, de recursos destinados a programas que combatem a insegurança alimentar no Brasil e apontou os grupos de pessoas mais atingidas por esse problema – mães de família, pretos e pardos e a população rural.
“O meio rural tem acesso à terra e ao mesmo tempo sofre de insegurança alimentar grave”, descreveu o que classificou como “um paradoxo”.
Jornal da USP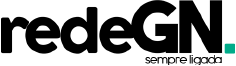




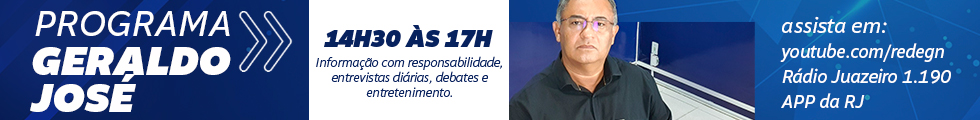








0 comentários