
Há exatos cem anos, no dia 23 de junho de 1921, o jornalista carioca Paulo Barreto resolveu sair mais cedo da redação de seu jornal A Pátria, que ele havia fundado há menos de um ano.
Ele, que saía normalmente depois das 3 horas da manhã daquele matutino inovador no cenário do Rio de Janeiro, que inoculava ares de modernidade na vetusta cena jornalística local, pegou o paletó e o chapéu às 10 horas da noite e tomou um táxi. O destino era seu palacete na Avenida Vieira Souto, em Ipanema.
Ele não estava se sentindo bem, tinha se aborrecido com uma série de coisas ao longo do dia, e queria chegar mais cedo em casa. No caminho, o mal-estar piorou muito e ele pediu para o motorista parar e lhe conseguir um copo com água. Quando o taxista voltou, já era tarde: seu passageiro havia sofrido um derrame fulminante.
Mas quem estava morto no banco de trás daquele Studbaker preto não era apenas o jornalista João Paulo Emílio Christovan dos Santos Coelho Barreto – nome que, segundo o escritor Agrippino Grieco, exigia realmente um táxi “para ser percorrido na íntegra” –, mas sim o cronista, repórter, escritor, dramaturgo e tradutor João do Rio, o nome de plume pelo qual Paulo Barreto se tornou conhecidíssimo no Rio de Janeiro – para o bem e para o mal – e que o levou a ganhar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele tinha 39 anos – faria 40 em agosto – e sua morte foi a responsável por uma das maiores comoções populares na então Capital Federal.
Seu corpo – vestido com o tradicional fardão da Academia, que ele foi o primeiro a usar em uma cerimônia de posse – foi velado em câmara ardente por dois dias no A Pátria e depois sepultado no cemitério São João Batista. Os registros da época dão conta de que mais de cem mil pessoas seguiram o féretro, com o caixão sendo levado numa carreta por populares, seguindo o mesmo táxi onde João do Rio morreu. Essa pequena multidão homenageando o cronista só perdeu em número para aquela que, em 1912, reverenciou o Barão do Rio Branco, que acabara de morrer. Curiosamente, o mesmo homem que, em 1902, lhe fechou as portas da carreira diplomática por achar que aquele jovem pobre, mestiço e um tanto pernóstico não servia para o Itamaraty.
“Mas, em 1903, consagrou-se como João do Rio. O sucesso lhe traria independência, admiração popular, fraques de brim branco, suspensórios de seda, charutos caros, três banhos por dia, mesas a satisfazer seu descomunal apetite, palacete à beira-mar e, como inevitável, a hostilidade aberta de um ou outro escritor”, assinala Ruy Castro em seu livro Metrópole à Beira-Mar. “Cada qual podia ter seu motivo particular para não gostar dele, mas todos se dedicavam a atacá-lo por seus flancos mais expostos: era gordo, mulato e homossexual”, escreve Castro.
Mas, no final das contas, os que gostavam de João do Rio ganharam a parada dos homofóbicos, racistas e preconceituosos daquela época. E não só aqueles milhares que seguiram o cortejo até seu sepultamento – entre os quais se misturavam tanto figurões das letras, da alta sociedade carioca e da política quanto mendigos, prostitutas, ex-presidiários, macumbeiros. João do Rio trafegava tão bem nos salões atapetados do poder como nas vielas lamacentas dos morros cariocas, coisa que ele deixou bem claro em livros como o hoje clássico A Alma Encantadora das Ruas, o primeiro a deitar um olhar mais aprofundado, um olhar de repórter, sobre o bas fond do Rio de Janeiro. Pode-se dizer que João do Rio foi o primeiro repórter de fato no cenário nacional. Um século depois, o jornalista continua em alta, e o centenário de sua morte não passou em branco.
Entre as homenagens, está o lançamento de um site (https://www.bilhetesdejoaodorio.com.br) organizado pela jornalista Cristiane d’Avila com arquivos digitais da coluna Bilhete, que ele escrevia em A Pátria. O arquivo disponibiliza, em acesso livre, 52 textos inéditos do repórter e cronista. Outra, patrocinada pela Prefeitura do Rio dentro do projeto Rolê Carioca, é um passeio virtual pela cidade seguindo as crônicas de João do Rio.
O roteiro inédito, que justamente por causa da pandemia de covid-19 será virtual, teve seu percurso definido a partir de A Alma Encantadora das Ruas, que tem a cidade do Rio de Janeiro como personagem principal. Na obra, João do Rio descreve uma cidade de contrastes e convida o leitor a viajar pelas ruas sob a ótica do flâneur, que não se fixa num local, mas passa por vários pontos, conversando com pessoas e conhecendo diversos tipos humanos, e observa as situações sob um ponto de vista que acabou por inovar o jornalismo e fez dele um dos maiores de seu tempo. O passeio será neste domingo, dia 27, às 10h, pela plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo Facebook do projeto Rolê Carioca. O link do Zoom será liberado às 9h50 nos perfis do projeto (Facebook e Instagram).
Homenagear João do Rio com um passeio pela cidade que ele tão bem registrou em suas crônicas e reportagens faz todo o sentido. Afinal, pode-se dizer que ele foi o precursor no País do repórter que suja as solas do sapato atrás de personagens interessantes, histórias diferentes e visões longe do lugar-comum – pelo menos, do lugar-comum da época. Ele foi, por exemplo, o primeiro a citar a mãe de santo baiana Hilária, também conhecida como Aciata, que depois se tornaria famosa como tia Ciata, em cuja casa, na Praça Onze, nasceu aquele que ficou conhecido como o primeiro samba, o Pelo Telefone. João do Rio vagava pela cidade, caminhava por suas ruas estreitas e pelas avenidas largas – ou, como ele gostava de falar, “flanava” por esses locais. Como afirma Ruy Castro, a língua portuguesa lhe deve os verbos flanar e esnobar.
“Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da população, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do Cassino vestido de turco, gozar nas praças os ajuntamentos defrontes das lanternas mágicas, conversar com os cantores de modinha das alfurjas da Saúde”, escreveu o autor em A Alma Encantadora das Ruas.
Mas se João era do Rio, também podia ser de Paris, já que era um apaixonado pelas coisas gaulesas (trazer a palavra flâneur para o português não foi à toa) e viajou várias vezes, entre 1912 e 1920, para a Cidade Luz, passando longas temporadas observando o Sena. Paulo Barreto/João do Rio era um dândi, aquela figura que gostava de uma boa dose de exibicionismo e de olhar o mundo do alto de uma plataforma muito própria. Com suas roupas chiques, alfinete de diamante na gravata e modos afetados, João do Rio era praticamente uma versão tropical de Oscar Wilde, que ele adorava e de quem traduziu – pela primeira vez no Brasil – seu O Retrato de Dorian Gray. Ninguém mais apropriado naquele momento.
Mas o grande mérito de João do Rio foi escrever – e muito – nas mais diversas publicações cariocas. Ele colocou suas crônicas e reportagens em jornais como Gazeta de Notícias, Cidade do Rio, A Notícia e O País – além de naquele que ele fundou. O jornalista era prolífico mesmo: só em O País, em 1916, ele assinou 341 textos, quase um por dia. E ele nem sempre assinava como João do Rio.
Ele tinha outros, digamos, heterônimos – mais do que pseudônimos –, como José Antonio José, Claude, Máscara Negra e Jacques Pedreira. Este último, personagem também de um de seus dois únicos romances, A Profissão de Jacques Pedreira, um livro que “não tem valor estético incomum, mas tem valor histórico”, como apontou o professor Antonio Dimas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH) em artigo na edição 17 da Revista USP. O outro romance é A Correspondência de Uma Estação de Cura. Porque a grande maioria de seus cerca de 20 livros – como o já (muito) citado A Alma Encantadora…, Vida Vertiginosa, Cinematógrafo e As Religiões do Rio – é formada pelas crônicas e reportagens originalmente publicadas nos jornais onde ele trabalhou. Ah, sim: raramente João do Rio publicava seus livros por editoras brasileiras. Ele preferia publicá-los inicialmente em Lisboa e trazê-los para o Brasil.
Já se disse aqui que João do Rio tinha algumas muito boas relações nas altas rodas e no meio artístico – o futuro presidente Arthur Bernardes financiou a criação de A Pátria, Monteiro Lobato e Ruy Barbosa saíram em sua defesa quando ele foi espancado por marinheiros devido a publicações a favor de pescadores portugueses, em uma querela que demoraria muito para explicar, mas que deixou a Marinha brasileira ofendida, e consta que ele teria tido até um affaire com a bailarina americana Isadora Duncan quando ela visitou o Rio de Janeiro em 1916.
Mas foram os desafetos que acabaram por chamar mais a atenção. Até por causa da virulência com a qual atacavam o jornalista e escritor. Ele foi tratado com todas as ofensas possíveis e imagináveis (e até com as inimagináveis), cuja reprodução aqui neste texto é inviável, por nomes que hoje fazem parte da cultura nacional como Lima Barreto, Humberto de Campos e Emílio de Menezes. Eles o desprezavam tanto por uma questão de forte preconceito em vários níveis quanto por suas posições sociopolíticas. Seus detratores estavam abraçados ao nacionalismo exacerbado – que se sabe muito bem onde essa postura pode acabar, com toda sua intolerância –, enquanto João do Rio – ou Paulo Barreto – era cosmopolita, pensava em francês e tinha uma visão de mundo para muito além do cais da Praça Mauá.
Esses ataques – além de outros problemas relacionados a suas adesões políticas – acabaram por, de uma forma ou outra, minar a saúde do escritor e jornalista. Ele já não conseguia dormir direito, estava cada vez mais angustiado. E, então, naquele 23 de junho de um século atrás, ele não teve tempo de tomar o copo d’água que havia pedido ao taxista que o levava para casa. Mas, no final das contas, ele acabou dando a palavra final, mostrando que punhos de seda e roupas elegantes podem muito bem combinar com a realidade árida das ruas. João do Rio ensinou como se fazer reportagem.
Reportagem Marcello Rollemberg-Jornal da USP
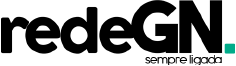









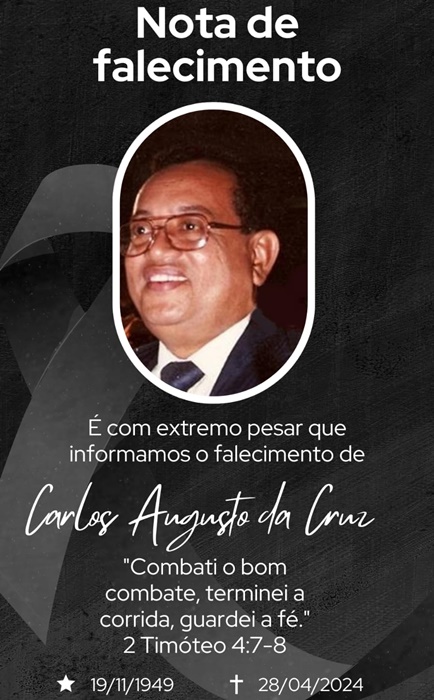




0 comentários