
A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa (Karl Marx).
Podemos pensar no bem e no mal como os dois polos principais da manifestação da nossa condição humana. Somos capazes de semear o amor ou o ódio, a guerra ou a paz. Entretanto, há algo mais potente que essas potências: a máscara da banalidade.
O bem e o mal, em si, não são banais. São éticos em suas essências. Há uma infinidade de razões para que o mal e o bem sejam como são. Entretanto, a banalização dessas duas grandes paixões humanas é que tem conduzido a nossa espécie ao caos civilizatório que atravessamos, agenciado pelos mecanismos da pulsão de morte. A repetição do lado sombrio da história não é mais uma tragédia, agora é uma máscara, uma farsa.
O bem banal é sempre mais fraco que o bem como bem, embora mais forte que o mal, ou seja, é uma potência ruim numa extremidade negativa do bem. Sem ser o mal, ele é mais mal que o mal. Seria pensar, como professou tantos pacifistas ao redor do mundo, que o problema não é o mal em si, mas o silêncio dos bons². O bem banal é, assim, o bem silenciado, calado, amedrontado. Indo mais fundo nessa dimensão da banalidade do bem, corroboramos a ideia de que o mal é mais mal quando parece bem. O bem banal é uma das manifestações do mal travestido de bem.
A banalidade tem a ver com o processo de autodomesticação da nossa espécie, uma herança maldita dos memes e genes da crueldade extrema e da passividade subserviente? Pode estar ligada a um estado de alienação ao outro que, como regra, “não existe”? A expressão desses repertórios onto e filogenéticos é, sabemos, um mal cada vez mais mal e um bem cada vez menos bem.
O mal banal, por sua vez, também é mais potente que o mal. É, mesmo, o ápice da maldade, ou seja, quando a maldade se torna banal. Sabemos, quando banalizamos as coisas, conferimos a elas valor de potência. Nesse sentido, a perversão é sempre uma forma banal do prazer, do gozo.
A banalidade tem tomado nossas vidas e sua gravidade é que ela se apresenta com a máscara de uma anestésica neutralidade. Esse deserto da indiferença é uma forma de dizer que o mal não é tão mal assim. Isso, sabemos, é a banalidade do mal³. É nessa posição que a maldade triunfa, sem produzir nos sujeitos produzidos que ela produz qualquer tipo de sofrimento moral. Os humanos banalizados têm corações que moram nos árticos do mundo.
A banalidade do bem segue uma posição parecida e mais perversa. Um bem banal é como um bem mal, um mal em forma de bem. Daí sua grande potência. Ela é a passividade como poética do pacífico. Pacifistas não são passivos, como provam os adeptos da Desobediência Civil e da Paz Ativa.
A vida foi dragada pela banalidade da existência. A natureza se tornou banal, um objeto vazio sem valor e sem vida. As relações humanas, hoje, não são nem líquidas, nem gasosas, são banais. Os vínculos familiares, o destino do mundo, tudo, absolutamente tudo, está banalizado, até o bem e, sobretudo, o mal.
A banalidade é uma espécie de entristecimento do amor. Uma forma de congelamento das emoções. Um esfriamento da alma. A banalidade é o corolário da indiferença humana.
A nossa opção pela banalidade nos torna frios e indiferentes. Áridos. Desérticos. Acatamos a fatalidade como nosso destino. O efeito medusa da banalidade é que tem feito os nossos corações sentirem a vida como morte. Ela nos torna mortos-vivos.
Ela é mais que a negação em si, porque não apenas negamos os marcadores da nossa existência, mas os reconhecemos como inevitáveis e os aceitamos, mesmo que isso represente a própria destruição. Em nome de ser bom para o mal, endossamos as atuações totalitárias sobre nossas vidas. É esse estado lisérgico que leva gays a se vincularem a homofóbicos, negros a adorarem supremacistas, emigrantes a apoiarem xenófobos e mulheres a pactuarem com misóginos.
Esses processos só são possíveis por causa de fenômenos psíquicos como a negação ou a banalização. Na negação, jogamos o lixo embaixo do tapete e fingimos que ele não existe, mas na banalização trazemos o lixo para a superfície, dormimos ao lado dele sem que esse amontoado de dejetos existenciais faça qualquer sentido. Esse monturo é o sem sentido que sentimos.
Os efeitos bioquímicos e psíquicos da banalidade são muito mais devastadores que as silenciosas motivações inconscientes que levam as vítimas ao culto dos seus algozes. Nessa relação promíscua entre senhor e servo, em que a caça se entrega ao caçador, há jogos adaptativos cruéis que observamos no tablado das suas atuações. Porém, nas arapucas da banalidade, os jogos são eminentemente sádicos e antiadaptativos.
No estado de banalidade, nossas lágrimas e emoções estão secas, petrificadas. A banalidade do bem mostra a possessão incorporal do mal, em que o bem e o mal passeiam de mãos dadas, sem que a maldade nos traga qualquer incômodo. As sinapses dessa suposta simbiose anunciam que não é mal ser mal nem é bem ser bem.
Em cifras dicionarísticas, banal é o que se pega do senhor para pagar. É um dever. É um modo de tornar servil o servo. A banalização é o servimento como forma de escravização sem que pareça escravatura. É quando você passa a ter o que não é seu, nunca. Trata-se de uma espécie de propriedade imaginária cheia de vazios.
A banalidade é a farsa perversa da justiça quando faz o teatro dos horrores para tentar dar o que é seu. Esse preenchimento fictício do vazio é a banalidade. Como assim? Para recorremos a uma enunciação lacaniana, é estar cheio de nada e vazio de tudo. Ela é o coroamento da ética do mal. A banalidade é o medo burocratizado.
A banalidade ocupa os espaços internos e externos das nossas sensibilidades, dos nossos sentidos. Somos banais quando atravessamos os dias e as noites de forma transparente. Na verdade, quando os dias e as noites atravessam nossas transparências. Nesse mortecimento, não somos nós que passamos pelo tempo, mas ele, o tempo, é que nos atravessa pelo oco do nosso espírito.
É um estado de apagamento da vitalidade. Quando os heróis morrem pela honra, negam a banalidade. Quando eles honram a morte, tonam-se banais. No coração da banalidade não dá, sequer, para servir à morte, pois, tomados por esse carcinoma, não temos signos nem significados para codificar a morte. Banalizados, somos sernada onde o signo não canta.
O espírito da banalidade está em nós quando a carcaça do corpo é conduzida por uma alma existida apenas. Seus estímulos são as frivolidades, a opacidade das experiências, o gozo perverso. A banalidade é a translucidade do espelho da nossa pele. Nossa imagem, nesse estado, é puro vazio na condição de nada. A banalidade nos torna o buraco no espelho em que nossa imagem reflete um profundo furo que captura nosso monstramento.
Nem a tristeza é banal. A angústia e a depressão, por exemplo, não podem ser confundidas com a banalidade. São uma espécie de grito ao ácido corrosivo da banalidade. O suicídio é que é o coroamento da banalidade.
A banalidade da luz é a sombra. A banalidade da sombra é a luz. A banalidade nos torna o que não somos. Com isso, passamos a ser o que não somos. O sol se torna banal quando passa a servir a escuridão com sua luminosidade. É como a lua quando, com sua poesia e beleza, fica restrita aos silêncios profundos dos oceanos. Molhados pelas águas da banalidade, somos uma coisinha de qualquer coisa. A qualidade da banalidade é a coisificação do que não é coisa.
Banalidade é quando a morte se faz vida. Quando colocamos nossa potência de vida a serviço das correntes da alma e dos porões imundos da nossa histórica genética e cultural. Psiquicamente falando, é quando a pulsão de vida serve à pulsão de morte. Ela nos monstrifica, obrigando-nos a usar coleira entre as feras. A lição que a banalidade nos ensina é que entre bichos seja bicho, entre monstros seja monstro, entre feras seja fera. Convence-nos de que devemos ser mal onde há o mal e que não há lugar para o bem num mundo de maldades. Sabemos, a banalidade festeja quando, numa era de crueldades, celebramos os monstros.
A banalidade floresce quando, em tempos de hiperconectividades virtuais, produzimos enraizamentos que nos desintegram na condição de sujeito e nos avessa de objeto.A banalidade se divinifica quando usamos o nome de Deus para matar e monarquizarmos doentes mentais como líderes espirituais que cristificam o capitalismo. No reino da banalidade, a acumulação e a propriedade são as pedras fundantes do castelo da salvação.
Entre nós, o bem e o mal banais se evidenciam, quando, desnudados, descobrimos que só podemos ser as máscaras da máscara do mal. Por trás da máscara da banalidade, há a face do mal ad infinitum, ou seja, a banalidade da banalidade. Essa estética é o modo parasitário de esqueletificar o bem.
Escolher a máscara da banalidade é escolher pela morte da vida. Assim, só há um jeito de desbanalizar a banalidade: trazendo a chama do ouro da beleza para o coração da alma e, a partir desse ponto do corpo do nosso espírito, ser a potência de luz que enche a vida de encanto, de entusiasmo, de alegria, ou seja, sendo fogo em forma de vento, deve-se entrar nas narinas dos banalizadores, penetrar seus pulmões, escorrendo pelos glóbulos do sangue, chegando nos segredos profundos das células, e anunciar que, quando não estamos mais a serviço da banalidade, somos a combustão potente do amor em chamas que mata o mal para celebrar a vida do bem vital.
Professor UNEB doutor Juracy Marques - Ecólogo Humano e Psicanalista
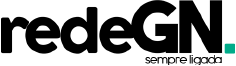



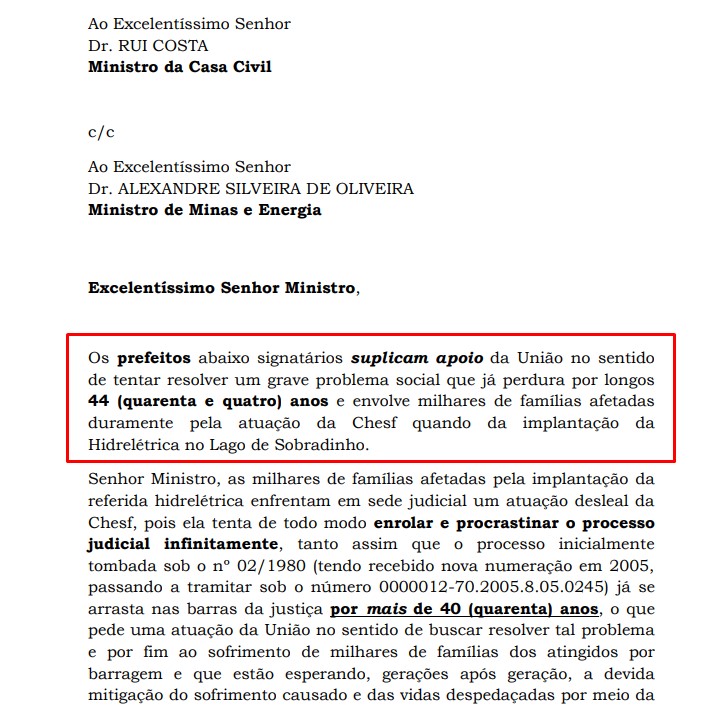








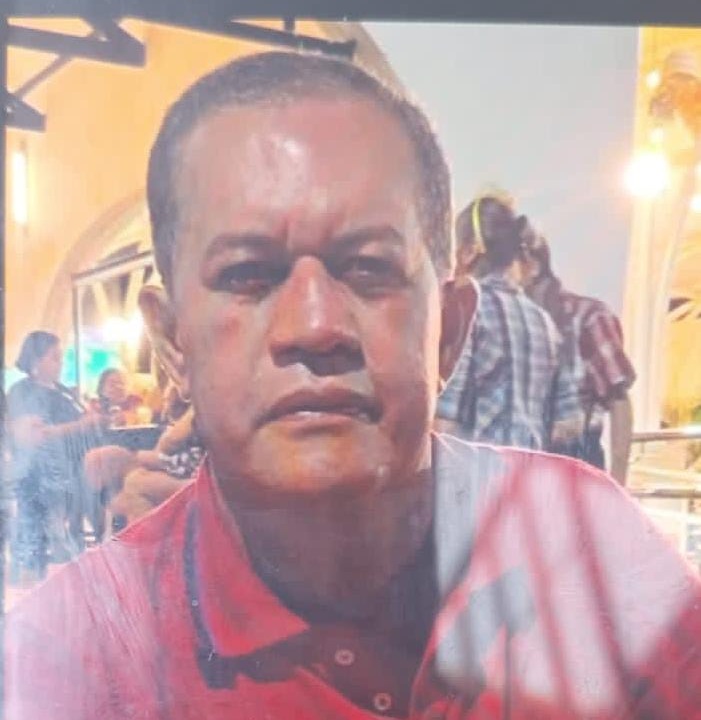
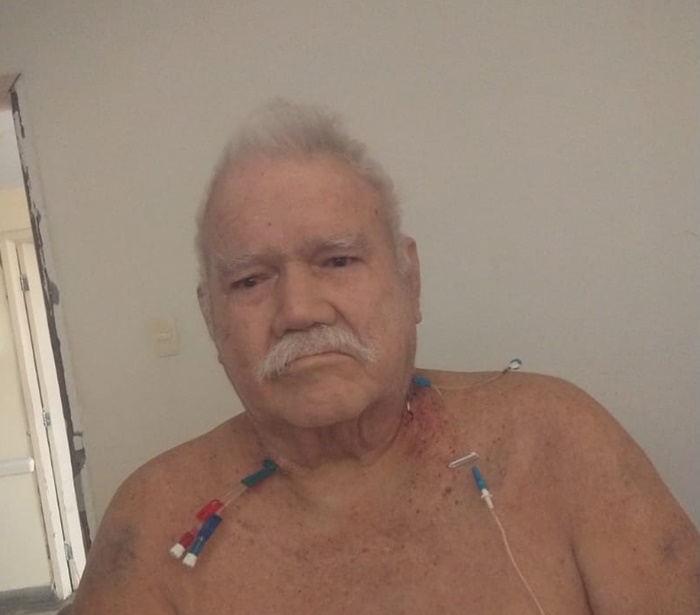

6 comentários
26 de Dec / 2019 às 23h43
Banalidade é ver um ladrão roubar e achar isso sem importância. É saber que toda uma quadrilha saqueou o país, e achar isso banal, pois a quadrilha “ajudou os pobres”. É como roubar seu carro (banal) e lhe dar carona (social). Banal é ler e acreditar num Marx, que nunca trabalhou, traiu a mulher e deixou as filhas passarem fome. Isso é banalidade. Isso é também farsa. E não é preciso ser doutor para saber disso.
27 de Dec / 2019 às 00h38
Que disse isso nao foi Marx foi Hegel, o autor usou tanto a palavra banalidade que o texto se tornou banal, beirando a ilegibilidade...
27 de Dec / 2019 às 01h23
Certo. Hoje tamos na bestialidade de BOSTANARO. GASOLINA 6.00 REAIS CARNE 35.00. BOLSONARO PIOR QUE COLLOR
27 de Dec / 2019 às 06h07
BEM E MAL SÃO RELATIVOS,PARTES DE UM MESMO TODO.O QUE É UM BEM ? O QUE É UM MAL ? SE DURANTE UM SEQUESTRO,UMA BALA DISPARADA POR UM ATIRADOR DE ELITE MATA O SEQUESTRADOR,ELA É UM BEM OU UM MAL ? MAS,SE A MESMA BALA MATAR TAMBÉM O SEQUESTRADO ? COMO FICAMOS ? O QUE É UM HERÓI DE GUERRA SENÃO UM ASSASSINO CONDECORADO ? O MORTAL VENENO DE UMA COBRA É UM MAL ? E SE DELE PODEMOS EXTRAIR UMA SUBSTÂNCIA CAPAZ DE SALVAR VIDAS ? PODEREMOS CONTINUAR AFIRMANDO QUE É UM MAL ?PONTUALMENTE PODEMOS DIZER:ISTO É BOM ISTO É RUIM ! MAS,DENTRO DE UM CONTEXTO ,AO LONGO DO TEMPO,TUDO PODE MUDAR E SE INVERTER.
27 de Dec / 2019 às 08h25
Nunca vi tantas asneiras como nesse infeliz texto! Vocês não voltarão mais ao poder! Vocês acabaram com o país, bando de facínoras! Vai procurar o que fazer "professor doutor"! Acabou para o sr. e uns bandos de oportunistas! Suas ideologias só servem para vocês! O tiro saiu pela culatra! Fora!
27 de Dec / 2019 às 20h20
Acreditem esse cara foi meu professor! Kkkkkkk é cada coisa kkkkk ele vive em um mundo sureal kkkkkkk eu acho q ele foi o autor do mundo fantástico de boby!